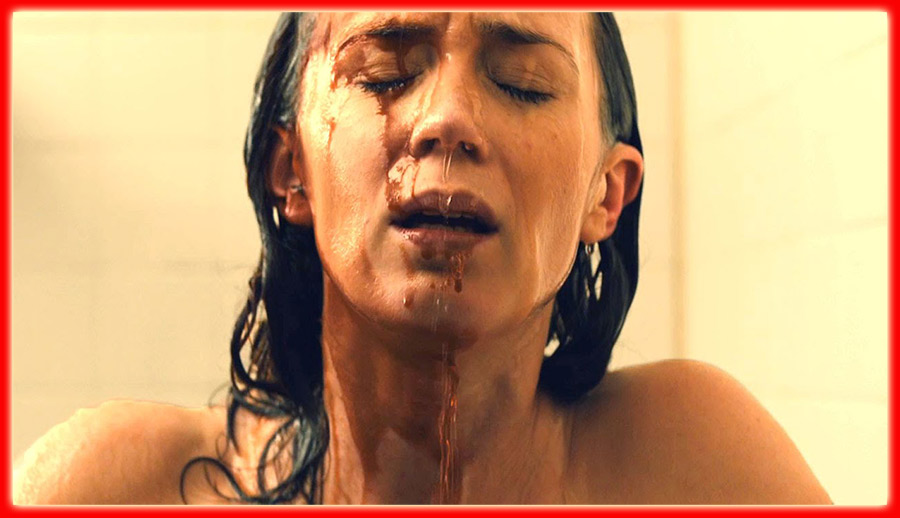Algumas histórias simplesmente não poderiam ser contadas no século passado. Ainda é considerado um tabu, mas histórias de amor homossexual vão ganhando cada vez mais espaço no cinema contemporâneo, incluindo o americano. Lentamente as histórias do passado vão tornando-se populares, e o romance Carol é o novo longa do gênero, que o diretor Todd Haynes oferece em uma embalagem digna.
Adaptada do livro semi-autobiográfico The Price of Salt de Patricia Highsmith trama é ambientada no período do Natal de 1952, onde encontramos a jovem Therese Belivet (Rooney Mara), uma aspirante a fotógrafa que trabalha como atendente em uma loja de departamentos. No furor caótico do período de compras, conhece Carol Aird (Cate Blanchett), uma mãe rica e casada com o influente Harge (Kyle Chandler). Um romance escondido entre as duas rapidamente se inicia, ao mesmo tempo em que o marido as persegue.
Não é uma premissa que grita originalidade, mas realmente não há como se ir tão longe na criação de uma história de amor, apenas na forma como é contada. O roteiro de Phyllis Nagy não toma muitas ousadias no desenrolar de sua narrativa, optando por uma condução majoritariamente linear e um foco constante nas relações entre os personagens. Therese tem todo um subtexto de indecisão profissional e emocional, já que encontra-se pressionada com o pedido de casamento súbito de seu namorado e um desejo de realizar arte. Já Carol enfrenta um doloroso processo de divórcio e uma disputa pela guarda de sua filha pequena, Rindy (vivida pelas gêmeas Sadie e Kk Heim).
São subtramas sólidas e que oferecem uma aproximação forte entre as protagonistas, o que nos leva ao óbvio trunfo da produção: Cate Blanchett e Rooney Mara. Todas as cenas de diálogo entre as duas são fascinantes, principalmente pela química entre as duas até a condução absolutamente sensorial de Todd Haynes. Blanchett assume uma postura muito mais segura e madura durante as cenas com Mara, evidenciando ali sua idade mais avançada, mas é comovente vê-la se quebrando com a ameaça de perder a custódia de sua filha – imediatamente vilanizando o personagem de Kyle Chandler, mas ao analisar de perto encontramos uma insegurança significativa.
Mas é mesmo Rooney Mara quem tem o trabalho mais difícil, justamente pelo fato de ser a personagem mais complexa. Sua grande confusão com o mundo é bem clara com o olhar quase perdido da personagem em cenas de multidão ou com seu complicado namorado; vide a cena em que tenta perguntar a ele se acredita no amor entre duas pessoas do mesmo sexo, imediatamente negando quando este pergunta se o caso se aplicaria a ela. Porém, tudo desaparece ao contracenar com Blanchett. Therese torna-se ali uma mulher madura e que vai descobrindo o que é a vida e o amor, fazendo com que Mara cresça também.
O que nos leva ao sensível estilo de Haynes, um diretor muito inteligente. Na primeira conversa informal entre as duas, em um almoço, seu posicionamento de câmera é certeiro para traduzir visualmente o contraste entre as personagens: numa posição superior econômica (e até emocional, dada sua experiência que é constantemente posta contra à da amante), o plano de Carol é ligeiramente mais alto do que a de Therese, que parece melhor distribuída no contra plano. É revelador vermos uma sutil inversão, no momento em que Carol volta atrás em uma determinada situação, trazendo-a agora em um evidente plano plongée enquanto fala ao telefone com Therese; e esta, enquadrada normalmente do outro lado da linha.
Vale apontar como o olho do diretor é muito interessado em pequenos detalhes. Quando Carol dirige para Therese pela primeira vez, o olhar da jovem foca-se nos dedos da companheira no volante, nos pelos de seu carregado casaco de peles e no vermelho do batom em seus lábios carnudos. A trilha sonora predominantemente focada em piano e flauta fornece o toque perfeito para cenas do tipo, no qual uma química borbulhante entre as duas vai lentamente evoluindo.
O longa também merece aplausos pela genuína recriação do período e a imersão atmosférica que provoca no espectador. A começar pela fotografia de Ed Lachman, que opta por rodar o filme em película 16mm, conferindo assim um grão muito mais evidente, mas que torna-se perfeito quando consideramos não só a época, mas a paixão de Therese pela fotografia; não poderia imaginar este filme tendo o mesmo impacto com cinematografia digital, mesmo preferindo o formato. A tonalidade das cores, sempre pendendo para algo frio e não muito forte também destacam o inverno e o frio da temporada natalina, o que faz sentido quando pensamos na expressão “Christmas Carol”. A imagem de Mara vista através de um vidro de carro embaçado é uma das mais belas.
O design de produção de Judy Becker revela-se econômico, mas bem sucedido na fidelidade ao período e ao serviço narrativo. A loja de departamentos onde Therese trabalha, por exemplo, é um ambiente claustrofóbico que só piora com o grande número de pessoas e também os enquadramentos de Haynes, sempre posicionando a câmera atrás de algum cômodo ou em cantos de tela, como quando vemos Therese arrumando uma prateleira de bonecas ou a visão periférica de uma chegada que acontece pelo banco de trás de um carro.
Carol pode não oferecer algo muito original ou revolucionário em o que poderia ser descrito como mais uma história de amor, mas é feito e executado com maestria e muita elegância, além de conter duas ótimas performances centrais.